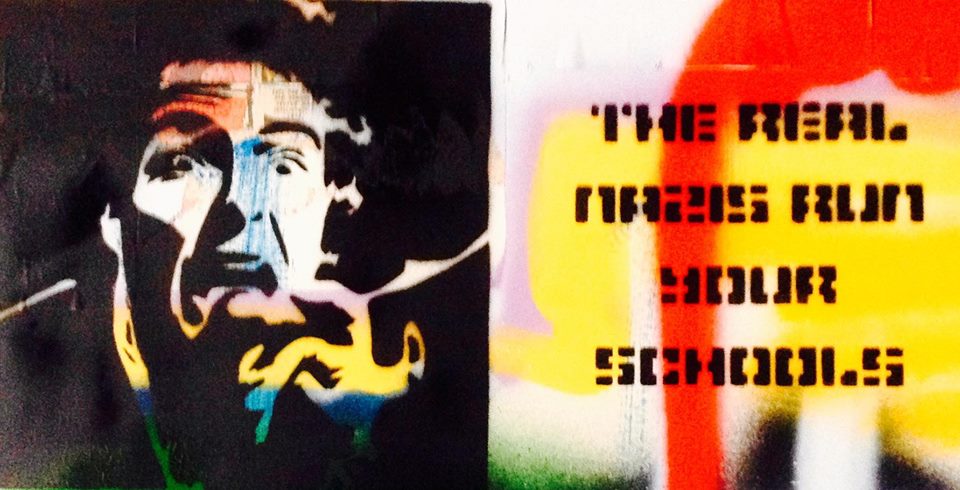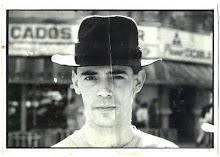O escritor é o guardião do repertório das histórias que o povo conta e vive, mas é antes de tudo o guardião da língua de que se serve este povo para contar as histórias do passado e as histórias que os acontecimentos de hoje (em todo o território nacional) fabricam. Numa sociedade complexa como a nossa, seria muito simples se o escritor fosse só o contador de histórias. Ele deve preservá-las, passá-las adiante, mas é responsável pela língua que as gravou. Para isso, é preciso que alargue as suas próprias possibilidades de fabricar uma linguagem, entrando por formas linguísticas que não possui, que não comanda. É assim que acaba por ter acesso ao coletivo da língua e à ficção do outro. Abrindo fronteiras, desbravando território estranho. Ganha, passa, recupera.
Não é exagero dizer que o escritor brasileiro tem a obrigação de traduzir o seu português (língua aprendida na escola, exercida através da função individual dentro da classe dominante, uniformizada pelo convívio, aprimorada e conscientizada através dos nossos bons autores daqui e de além-mar) para o brasileiro falado por pessoas de diferentes estratos sociais, que não tiveram acesso às instâncias de purificação da língua.
[...]
Assim como o escritor se interessa pelo alargamento das suas fronteiras linguísticas, também o leitor tem de trabalhar nesse sentido se quiser acompanhar o romancista, lendo a sua obra. Dessa forma terá acesso a um pensamento diferente do seu. Terá um melhor conhecimento do outro, do intricado funcionamento da sua cabeça e da maneira como fabrica soluções e problemas. Tudo isso sem a interferência de uma única subjetividade individual ou de classe. Não concebo uma intriga - num país de tantos falares quanto o nosso - sem antes fazer uma investigação minuciosa da língua em que esta intriga foi vivenciada. Saio à cata do falar dos meus personagens, encontrando por aí uma série de línguas menores que precisam ser dicionarizadas.
Dizem que os meus livros são construídos demais. Existe nesse tipo de frase um elogio implícito à espontaneidade na execução da obra de arte que me incomoda. Quanto mais espontâneo o discurso de um semelhante, mais fácil a sua compreensão por um outro semelhante, pois ficam ambos dentro de um circuito tautológico. O discurso ficcional não tem obrigação de seguir o circuito a que chamo de jornalístico (de semelhantes para semelhantes). Pode segui-lo - e será uma opção do romancista, condizente com a história que quer narrar. De modo geral, o nosso romance do Nordeste é, básica e intrinsecamente, feito por não-semelhantes para não-semelhantes. Ele tem de, como obrigação, criar um curto-circuito emocional no momento da leitura.
O leitor de jornal (ou de romance espontâneo) não quer fazer esforço algum quando lê. Contenta-se em absorver a escrita de um outro como se fosse um papale mata-borrão. Deixa-se guiar apenas pelas faculdades da memória e não pelas reflexão. Este leitor tem uma visão fascista da literatura. Fascismo não é apenas governo autoritário e forte, de preferência militar, que deixa que se reproduzem, sem contestação, as forças econômicas da classe dominante. Fascismo existe todas as vezes em que o ser humano se sente cúmplice e súdito de normas. Amolecem o cérebro, espreguiçam-se os músculos, soltam a fibra. O homem deixa-se invadir por modelos de comportamento que não representam a sua energia, mas que o transformam em um uniforme a mais. Chega a uma triste conclusão: quanto mais semelhante sou ao meu semelhante, mais sei a respeito do mundo, da sociedade e das pessoas.
A verdadeira leitura é uma luta entre subjetividades que afirmam e não abrem mão do que afirmam, sem as cores da intransigência. O conflito romanesco é, em forma de intriga, uma cópia do conflito da leitura. Ficção só existe quando há conflito, quando forças diferentes digladiam-se no interior do livro e no processo da sua circulação pela sociedade. Encontrar no romance o que já se espera encontrar, o que já se sabe, é o triste caminho de uma arte fascista, onde até mesmo os meandros e os labirintos da imaginação são programados para que não haja a dissidência de pensamento. A arte fascista é "realista", no mau sentido da palavra. Não percebe que o seu "real" é apenas a forma consentida para representar a complexidade do cotidiano.
O romancista ocupa, por isso, uma posição difícil dentro da sociedade e do seu grupo. Ele traz problemas sem solução para os seus semelhantes. Incomoda-os, não os deixando quietos e tranquilos com a vida que estão levando. Todas as vezes em que percebe que uma norma está sendo criada e seguida como modelo ideal por um grupo considerável de cidadão, é o momento em que entra em cena com as suas armas críticas. Esta crítica, no entanto, não aparece de forma explícita. Seria preferível, neste caso, escrever um ensaio. A crítica na ficção joga com a ambiguidade: reproduz a norma (momento em que o leitor, tendo encontrado um semelhante, simpatiza com ele), mas ao reproduzi-la, começa a instilar gotas de insatisfação que perturbam o mesmo leitor (tendo simpatizado inicialmente com os personagens, o leitor começa a achar o seu/dele comportamento estranho, deixando, enfim, de simpatizar com o livro).
Silviano Santiago
1994

![[...]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeNC2Kyxd34r2LuofHe9-vdXHeHwG3_2NhVmIOTlK2moU0Q4R7taMlS8iMmQgEl1-NdaRsPrLdREzfQZYKfUgjslwLZUZe67dAfFBREu-YRx6WGX-vAUt5eJT4_-lFwT4dGzGCQQ/s220/11798115_858304687558226_1857652538_n.jpg)