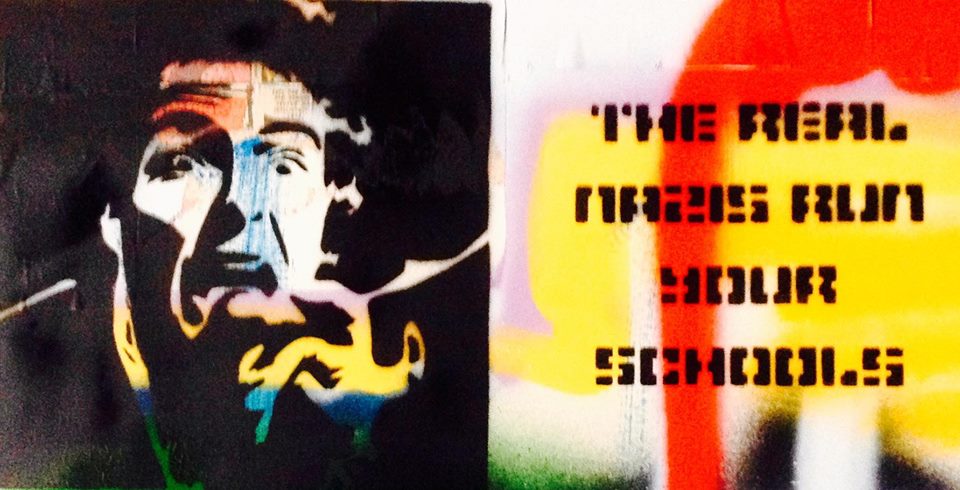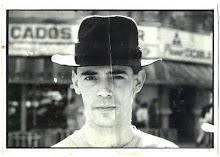Flávio Aguiar | A palavra no purgatório – literatura e cultura nos 70
[Crítica de Bains de sang, de Noam Chomsky e E. S. Herman. Paris, Seghers, 1975. Publicada em 4/8/1975]
Para se justificar um banho de sangue,
É necessário inventar outro, passado ou futuro, que seja maior
E cujo perigo justifique o primeiro, o real,
O que está acontecendo.
No longínquo ano de 1898 os nacionalistas das Filipinas haviam conseguido se libertar do jugo colonial espanhol. A liberdade, no entanto, durou pouco para eles. Nesse mesmo ano tiveram de enfrentar as forças mais poderosas e bem equipadas dos Estado Unidos, que vinham substituir os antigos dominadores. “Os tempos eram menos hipócritas”, diz o livro de Chomsky e Herman, e “o comando norte-americano propalava abertamente sua intenção de transformar as zonas de resistência em enormes desertos”. O general J. Franklin Bell, encarregado das operações, foi bastante claro: “Praticamente toda a população nos era profundamente hostil”. Era necessário mantê-la, dizia, “num tal estado de ansiedade e apreensão que o fato de viver nessas condições ficasse insuportável”. Dessa forma, prossegue, “o ardente desejo de ver essa guerra cessar” levaria todos “a se esforçarem ativamente para estabelecer uma paz real”. Era necessário aterrorizar até a paralisia, aqui entendida como “paz”. Entre os fatos da política externa norte-americana arrolados no livro, este é o primeiro, cronologicamente, que deu margem às formulações “teóricas” sobre tal política de “pacificação”, ou, nos termos dos autores, sobre a política sistemática do “banho de sangue”. Foi também o exemplo mais tosco, porque menos camuflado psicologicamente.
A mecânica da dominação
Ao longo do século XX, os “banhos de sangue” foram se sofisticando, graças aos avanços da tecnologia de guerra e à crescente complexidade dos serviços de inteligência e informações. Permaneceu invariado seu uso contra populações de países do Terceiro Mundo que deveriam ser subjugados e submetidos aos interesses diretos da estratégia norte-americana. A Guerra Fria, após a Segunda Guerra, intensificou o processo. Refinaram-se as justificativas para essas atitudes. Declarações “francas” como a do general Bell tornaram-se inoportunas. As razões tinham de ser mais “democráticas”. Assim nasceu o que Chomsky e Herman denominam de uma “ideologia imperial” na política externa norte-americana, destinada a justificar as intervenções deste país na política interna de países menores com o fito de aterrorizar e submeter populações inteiras, graças aos “banhos de sangue”.
O trabalho dos autores consiste em explicar, primeiro, a mecânica do “banho de sangue”; segundo, a mecânica de como se justifica o fato, o objetivo (a junção de ambos os níveis numa única política sistemática definiria a “ideologia imperial”). A mecânica em si do banho de sangue não necessita de muitas palavras: as curtas explicações do general Bell são suficientes, ainda que destituídas de habilidade.
Domina-se uma população através do terror, e para isso é necessário matar muitos de seus membros, tornando essas mortes exemplares para os outros. Pode-se fazer isso de duas maneiras, conforme analisa o livro: isolando minorias raciais ou políticas, ou mesmo religiosas, e aniquilando-as sob a complacência dos não-diretamente envolvidos; ou então aplicando uma política de destruição cega durante um tempo determinado que atinja a todos indiscriminadamente. Assim, dizem Chomsky e Herman, foi na Filipinas, na Guatemala, na década de 50 (quando o exército de mercenários organizado com a ajuda da CIA derrubou um governo legalmente constituído), na Indonésia na década de 60 (quando a perseguição aos comunistas desencadeou uma matança generalizada de centenas de milhares de pessoas durante vários anos).
As dificuldades começam quando se tem em mente que a manutenção do aparato bélico necessário custa muito dinheiro. E que é preciso tirá-lo do bolso do contribuinte e manda-lo aos mercenários, aos aliados ou às próprias tropas que executam “a tarefa”. Aqui começam as explicações rebuscadas. Os “tempos hipócritas” a que se referia o livro. Aqui começa, propriamente a “ideologia imperial dos banhos de sangue”. E aqui começa a via-crúcis do laboratório de pesquisas que superou a todos os exemplos anteriores: o Vietnã.
A invenção dos banhos de sangue
Embora as explicações sejam, em geral, amplas e retumbantes, o mecanismo básico é bastante simples. Para se justificar um banho de sangue, é necessário inventar outro, passado ou futuro, que lhe seja maior em proporções e cujo perigo justifique o real, o que está acontecendo. O truque foi muito usado no Vietnã. Conforme o livro expõe, a guerra provocou esforços titânicos dos sucessivos governos norte-americanos (Kennedy, Johnson e Nixon): primeiro, o de ganhar a guerra; segundo, o de tornar a guerra aceitável ao seu povo e ao mundo. O esforço de explicar que a guerra exigia que “houvesse” massacres desordenados e maiores do inimigo (reconhecido por disciplina de suas tropas). Para que, na terminologia de Chomsky e Herman, o banho de sangue fosse “construtivo”, era necessário que o outro, “mítico”, lhe fosse anteposto. Dois exemplos concretos ajudarão a compreender a função do banho de sangue “mítico”: o uso que se fez da reforma agrária do Vietnã do Norte, e o uso da ofensiva de 1968, quando os vietcongues tomaram a cidade de Hué, no norte do país, durante algumas semanas.
A retórica oficial norte-americana sempre definiu esses fatos como “chacinas”. E essas “chacinas” se ampliavam, à medida que se ampliava o banho de sangue provocado pelos próprios norte-americanos e seus aliados no Vietnã do Sul. A reforma agrária do Vietnã do Norte foi realizada na década de 50. Diz o texto que a primeira referência a um banho de sangue nesse processo, feita então pelo presidente Richard Nixon, em 1969, falava em “cinquenta mil mortos”. Em 30 de abril de 1970 quando as forças norte-americanas e sul-vietnamitas invadiram o Camboja, o número de vítimas da reforma agrária subiu para “centenas de milhares”, de acordo com a mesma fonte, isto é, o então presidente. Em 6 de maio desse mesmo ano, premido pela reação negativa dos estudantes e de largas faixas da população diante da invasão, o mesmo Nixon falava já em “milhões” de mortos na mesma reforma agrária. Em verdade, explica o livro, citando fontes mais constantes (no mínimo), houve execuções durante a reforma agrária, cujo número estaria entre 800 e 2.500. E ainda diz que muitos dos executores foram admoestados, mais tarde, pelo governo de Hanói, por seus “excessos”.
O caso de Hué é mais significativo ainda. Em novembro de 1969, descobriu-se a famosa matança de My Lai, em que civis sul-vietnamitas foram chacinados por tropas norte-americanas sob o comando do então tenente William Calley. Até então as cifras (essas mesmas discutíveis) da polícia sul-vietnamita sobre as mortes em Hué andavam em torno de 500, sendo que 300 desses mortos estavam soterrados numa grande vala comum. Logo depois da descoberta de My Lai “capturou-se” um documento aos vietcongues que falava em 2.748 mortos em Hué. E silenciou-se sobre o fato de que na retomada da cidade a artilharia norte-americana e sul-vietnamita não deixou pedra sobre pedra, provocando a morte seguramente de 2.000 civis. Restam ainda muitas dúvidas sobre a autenticidade daquele documento tão “providencial”. E numa brilhante análise linguística da tradução do documento para o inglês, Chomsky mostra como, de qualquer maneira, acabou-se por falsifica-lo: por exemplo, traduzindo palavras que originalmente teriam o sentido de “julgado” em vietnamita para “executado”. Quanto aos 300 mortos numa vala, diversos jornalistas puderam constatar que havia marcas de tratores perto do buraco, indicando que os corpos foram jogados lá dentro com a ajuda desses veículos. E como era e é sabido, os vietcongues não dispunham de tratores em sua ofensiva sobre Hué.
Os hábitos de uma política externa
A sucessão de truques macabros é enorme, na enumeração do livro. Civis, mulheres, crianças e velhos eram arrolados como “comunistas” (daí vinham as cifras espantosas das batalhas, em que o exército derrotado, o sul-vietnamita, tinha dezenas de mortos, e o “inimigo”, centenas). Nos relatórios sobre os inquéritos policiais do governo de Saigon (hoje cidade Ho Chi Minh), apresentados exclusivamente aos congressistas norte-americanos, não se fala em “vietcongues mortos” ou “pessoas presas”, mas sim em “infra-estruturas” foram “neutralizadas” do que saber que na verdade 84 mil pessoas foram presas sem qualquer apoio legal (21 mil dessas pessoas hoje estão mortas).
O sentido geral desses truques de linguagem é criar, segundo os autores, a imagem de que o “nosso” banho de sangue é “construtivo”, benigno. Não se fala em mortes, massacres. Como nos casos da Indonésia, da Guatemala, do Vietnã, admite-se falar em “reajustamentos”, ou no máximo em “mudanças dramáticas” ou “acontecimentos dramáticos” que estão sempre em função de alguma “segurança” coletiva.
Mas o livro de Chomsky e Herman não pretende ser um livro episódico. Seu objetivo geral é o de demonstrar que é impossível levar a efeito (patrocinar ou auxiliar diretamente) massacres de populações inteiras e justifica-los de modo tão “eficaz” e similar para diferentes situações (Guatemala, Indonésia, Vietnã...) sem que haja um planejamento orquestrado.
Em outras palavras, o que o livro deixa claro é que os banhos de sangue reais e suas explicações sofisticadas não são fruto do excesso eventual deste ou daquele comandante, mas sim parte de um planejamento sistemático, de uma política organizada e executada de acordo com padrões até bastante rígidos. O livro se pretende um ensaio sobre a política externa norte-americana, e não apenas um relato sobre atrocidades nos confins do sudeste asiático. Banhos de sangue retrata uma política que pode surgir, de uma ora para outra, em qualquer parte do mundo.


![[...]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeNC2Kyxd34r2LuofHe9-vdXHeHwG3_2NhVmIOTlK2moU0Q4R7taMlS8iMmQgEl1-NdaRsPrLdREzfQZYKfUgjslwLZUZe67dAfFBREu-YRx6WGX-vAUt5eJT4_-lFwT4dGzGCQQ/s220/11798115_858304687558226_1857652538_n.jpg)