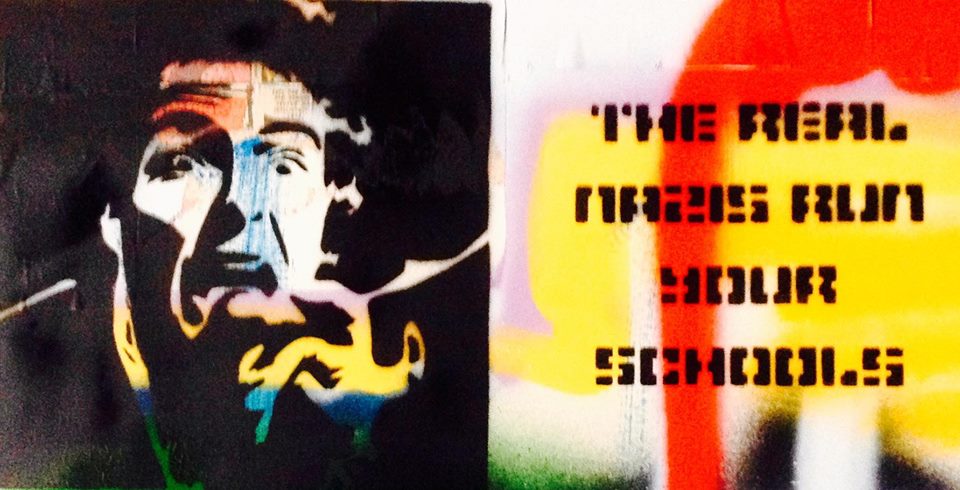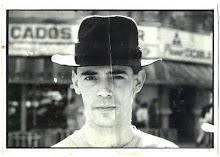1894 - 1963
Parecia mesmo um lugar estranho para encontrar uma
livraria. Todas as outras empresas comerciais da rua destinavam-se a prover as
necessidades mínimas da movimentada escória do bairro. Nessa rua, a principal
via de circulação, havia um brilho e uma vida especiais, produzidos pela rápida
passagem do tráfego. Era quase arejada, quase alegre. Mas por toda a volta
grandes trechos de favela pululava em sua úmida clausura. Os habitantes faziam
todas as suas compras na rua principal; passavam segurando peças de carne que
pareciam viscosas mesmo através do embrulho de papel; pechinchavam linóleo em
portas de estofadores; mulheres, de chapéu e xales pretos, passavam arrastando
os pés em direção ao mercado com sacolas surradas de palha tecida. Como é que
essas pessoas podia, me perguntei, comprar livros? E no entanto aí estava ela,
uma loja minúscula; e as vitrinas tinham prateleiras, e havia as lobadas
marrons dos livros. À direita um grande empório inundava a rua com sua mobília
fabulosamente barata; à esquerda as vitrinas discretas e cobertas de cortinas
de um restaurante anunciavam em descascadas letras brancas os méritos das
refeições de seis centavos. No meio, tão estreita que mal impedia a junção da
comida com a mobília, estava a lojinha. Uma porta de um metro e meio de vitrina
escura, era essa toda a extensão da fachada. Via-se aqui que a literatura era
um luxo; aqui ela tomava seu lugar proporcional, nesse lugar de necessidade. Mesmo
assim, o consolo era que ela sobrevivera, definitivamente sobrevivera.
O proprietário da loja estava parado à porta, um
homem pequenino, de barba grisalha e com olhos muito vivos atrás dos óculos que
encimavam seu nariz comprido e agudo.
- Os negócios vão bem? – perguntei.
- Eram melhores no tempo do meu avô – ele me
respondeu, sacudindo a cabeça com tristeza.
- Nós ficamos cada vez mais filisteus – sugeri.
- É a nossa imprensa barata. O efêmero sobrepuja o
permanente, o clássico.
- Esse jornalismo ou, pode-se dizer, esse
cotidianismo trivial é a maldição de nossa era – concordei.
- Serve só para... – Ele gesticulou com as mãos,
como se procurasse agarrar a palavra.
- Para o fogo.
O velho foi enfático ao dizer, em tom de triunfo:
- Não; para o esgoto.
Sorri, solidário com sua veemência.
- Concordamos agradavelmente em nossa opinião –
falei. – Posso dar uma olhada em seus tesouros?
Dentro da loja havia um lusco-fusco marrom,
recendendo a couro velho e o cheiro daquela poeira sutil e fina que se agarra
às páginas de livros esquecidos, como que preservando seus segredos – como a
areia seca dos desertos asiáticos soba a qual, ainda incrivelmente intactos,
jazem o tesouro e o lixo de mil anos atrás. Abri o primeiro volume que me caiu
nas mãos. Era um livro de estampas de moda, detalhadamente pintadas à mão em
magenta e púrpura, marrom, escarlate e castanho e todos aqueles tons diluídos
de verde que uma geração ainda anterior tinha denominado Os sofrimentos de Werther. Beldades em saia-balão deslizavam
através das páginas com a desenvoltura de navios embandeirados. Representavam-se
os pés magros, achatados e pretos, como folhas de chá destacando-se sob suas
anáguas. Seus rostos eram ovais, rodeados por cabelos de um negro brilhante, e
exprimiam uma pureza imaculada. Pensei em nossos manequins modernos, com seus
saltos altos e o arco de seus pés, seus rostos achatados e o sorriso enfadado. Era
difícil não preferir o passado. Comovo-me facilmente com símbolos; há algo de
Quarles em minha natureza. Não disponho de uma mente filosófica, prefiro ver
minhas abstrações concretamente retratadas. E ocorreu-me então que, se quisesse
um símbolo para a santidade do casamento e a influência do lar, não poderia
escolher melhor do que dois pezinhos escuros como folhas de chá espiando
decorosamente sob bainhas de imensas anáguas. Ao passo que saltos altos e pés
arqueados deveriam simbolizar – ah, bem, o oposto.
A corrente de meus pensamentos foi desviada pela voz
do velho.
- Imagino que você seja amante da música – disse ele.
Ah, sim, eu era um pouco; e ele me ofereceu um
volumoso fólio.
- Alguma vez já ouviu isto? – ele perguntou.
Robert,
o Demônio; não, eu não tinha ouvido. Eu não duvidava de que
era uma lacuna em minha educação musical.
O velho pegou o livro e puxou uma cadeira dos sóbrios
recessos da loja. Foi então que percebi um fato surpreendente: o que eu
imaginara, a um olhar descuidado, ser um balcão comum, percebia agora ser um
estranho piano quadrado. O velho sentou-se diante dele.
- Você deve perdoar qualquer defeito na afinação –
disse, voltando-se para mim. – Um antigo Broadwood, georgiano, sabe, e já viu
muito trabalho em cem anos.
Abriu a tampa, e as teclas amarelas sorriram para
mim no escuro como os dentes de um cavalo antigo.
O velho folheou as páginas até encontrar o trecho
desejado.
- O tema do balé – disse. – É lindo. Escute.
Suas mãos ossudas e um tanto trêmulas começaram
subitamente a movimentar-se com incrível agilidade, e, fraca e tilintante
contra o rugido do tráfego, ergueu-se uma melodia alegre e saltitante. O instrumento
sacudia consideravelmente, e o volume de som era fino como o fio d’água de um
regato atingido pela seca mais era afinado, e a melodia lá estava, tênue,
aérea.
- E agora a canção dos bêbados – exclamou o velho,
entusiasmando-se com sua execução. Tocou uma série de acordes que modulavam num
crescendo, até o clímax; tão supremamente operístico que era sem dúvida alguma
uma paródia daquele momento de tensão e suspense, quando os cantores se
preparam para uma explosão de paixão. E então chegou o coro dos bêbados. Imaginavam-se
homens envoltos me mantos, rudemente joviais, com o vazio de garrafões de vinho
de papelão.
Versiam’a tazza piena
Il generoso umor.
A voz do velho era aguda e rachada, mas seu
entusiasmo compensava quaisquer problemas de execução. Eu nunca tinha visto
alguém imerso em tão absoluto deleite.
Ela passou mais algumas páginas.
- Ah, a Valse
Infernale – disse. – Esta é boa. – Houve um pequeno e melancólico prelúdio
e em seguida a melodia, talvez não tão infernal como se era levado a esperar,
mas mesmo assim bastante agradável. Olhei por cima do ombro dele e cantei com
seu acompanhamento.
Demoni fatali
Fantasmi d’orror,
Dei regni infernal
Plaudite al signor
Um grande caminhão de cerveja, movido a vapor,
passou rugindo com seu trovão aniquilador e fez desaparecer por completo a
última linha. As mãos do velho ainda se movimentavam sobre as teclas amarelas,
eu abria e fechava a boca; mas não havia som de palavras ou de música. Era como
se os demônios fatais, os fantasmas de horror, tivessem irrompido subitamente
nesse lugar tranquilo e perdido.
Olhei para fora através da porta estreita. O tráfego
corria sem cessar; homens e mulheres passavam apressados, com rostos tensos. Fantasmas
de horror, todos eles: habitavam reinos infernais. Lá fora, homens vivam sob a
tirania das coisas. Todos os seus atos eram determinados por ordens da mera matéria,
por dinheiro, e pelas ferramentas de seu ofício e pelas leis irrefletidas do
hábito e das convenções. Mas aqui eu parecia a salvo das coisas, vivendo a um
passo da realidade; aqui, onde um senhor barbado, improvável sobrevivente de
alguma outra era, corajosamente tocava a música da romança, não obstante o fato
de que fantasmas de horror pudessem vez por outra abafar o som dela com sua
turba.
- E então, vai levar? – A voz do homem invadiu meus
pensamentos. – Posso deixar por cinco xelins.
Ele segurava o volume grosso e gasto em minha
direção. Seu rosto refletia uma ansiedade tensa. Eu via como ele estava ansioso
por meus cinco xelins, como lhe eram – pobre homem! – necessários. Ele tocou,
pensei com uma amargura nada razoável, ele tocou simplesmente para mim como um
cachorro treinado. Senti-me ofendido. Ele era apenas um dos fantasmas de horror
disfarçado em anjo nesse paraíso de contemplação um tanto cômico. Dei-lhe duas
moedas, e ele começou a embrulhar o volume me papel.
- Sabe, fico triste em me separar dele – comentou. –
Sou muito ligado a meus livros, mas eles sempre têm de ir.
Suspirou com uma emoção tão obviamente genuína que
me arrependi da opinião que fizera dele. Era um habitante renitente dos
domínios infernais, exatamente como eu.
Lá fora começavam a anunciar os jornais da tarde: um
navio afundado, trincheiras capturadas, o novo discurso emocionante de alguém. Olhamos
um para o outro – o velho vendedor de livros e eu – em silêncio. Nós nos
compreendíamos sem palavras. Ali estávamos nós em particular, e ali estava toda
a humanidade em geral, todos enfrentando o horrível triunfo das coisas. Nesse contínuo
massacre de homens, no sacrifício forçado desse velho a matéria triunfava
igualmente. E caminhando para casa através do Regent’s Park, eu também descobri
a matéria triunfando sobre mim. Meu livro era despropositadamente pesado, e eu
me perguntei o que poderia fazer com uma partitura de Robert, o Demônio quando chegasse em casa. Seria apenas mais uma
coisa a me pesar e me atrapalhar; e naquele momento ela era pesada, ah,
abominavelmente pesada. Inclinei-me sobre a grade que rodeia o lago ornamental
e, o mais discretamente que pude, deixei cair o livro entre os arbustos.
Com frequência penso que seria melhor não tentar a
solução do problema da vida. Viver já é bastante difícil sem complicar o
processo pensando nele. A coisa mais sábia, talvez, é aceitar a “aborrecida
condição da humanidade, nascida sob uma só lei, todos uns presos aos outros” e
parar por aí, sem tentar reconciliar os incompatíveis. Ah, a absurda
dificuldade de tudo isso! E, além do mais, gastei cinco xelins, o que é sério,
sabe, nesses tempos difíceis.
Aldous Huxley
Trad.: Eliana Sabino


![[...]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeNC2Kyxd34r2LuofHe9-vdXHeHwG3_2NhVmIOTlK2moU0Q4R7taMlS8iMmQgEl1-NdaRsPrLdREzfQZYKfUgjslwLZUZe67dAfFBREu-YRx6WGX-vAUt5eJT4_-lFwT4dGzGCQQ/s220/11798115_858304687558226_1857652538_n.jpg)